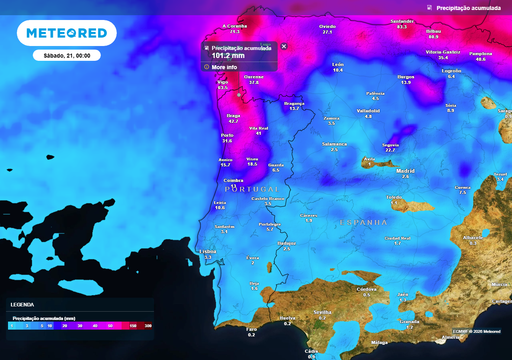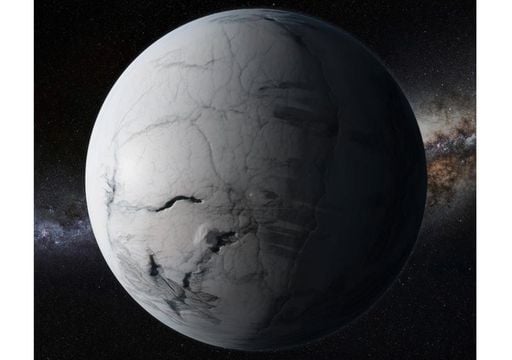Mais antigo que o Egito: China e Sudeste Asiático têm mumificação de 10.000 anos!
O segredo do fumo. Os arqueólogos desvendam prática milenar de mumificação tropical. Saiba mais aqui!

Este estudo apresenta a evidência mais antiga de mumificação artificial por secagem ao fumo no mundo, datando de há mais de 10.000 anos, em populações de caçadores-coletores no sul da China e no Sudeste Asiático. A prática, que persistiu até o Holoceno Médio (cerca de 4.000 anos atrás), é anterior à mumificação associada à cultura Chinchorro (cerca 7.000 anos atrás) e ao Antigo Egito (cerca de 4.500 anos atrás).
As práticas funerárias Pré-Neolíticas e o desafio interpretativo
Os enterros de caçadores-coletores do Pleistoceno Terminal e Holoceno Inicial a Médio (c. 12.000 a 4.000 cal. BP) no Sudeste Asiático – incluindo o sul da China – destacam-se pelos seus posturas fletidas, apertadamente agachadas ou de cócoras, muitas vezes com indícios de compressão e, por vezes, vestígios de queimadura ou desmembramento post-mortem. A natureza contorcida e por vezes queimada dos restos mortais levantava questões sobre as práticas mortuárias e como estas posturas distintas eram alcançadas.

A investigação centrou-se em 54 enterros pré-neolíticos de 11 locais arqueológicos. A postura hiperfletida de alguns indivíduos, como o M26 de Huiyaotian (sul da China), sugere que os corpos foram dobrados de forma extremamente compacta antes do enterro, o que seria impossível com um cadáver fresco e em rigor mortis. A ausência de espaços vazios entre os membros e o tronco, mesmo em enterros articulados, sugere que os corpos foram enterrados num estado dessecado, com apenas pele seca a revestir os esqueletos.
Análise científica e evidências de exposição ao fumo
Para investigar o tratamento post-mortem, o estudo empregou a difração de raios X (XRD) e a espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) em amostras ósseas. Estas técnicas podem detetar o aquecimento ósseo mesmo quando não há vestígios visíveis de carbonização.
A análise de FTIR em 64 amostras demonstrou que a exposição ao calor era comum, com 84,38% das amostras a apresentarem valores de Índice de Cristalinidade (CI) que sugeriam aquecimento.

A variação significativa nos valores de CI entre diferentes partes esqueléticas do mesmo indivíduo, descarta a alteração diagénica uniforme (alteração devido ao ambiente de enterro) e aponta para diferentes graus de exposição térmica.
As evidências sugerem uma exposição térmica de baixa intensidade na maioria dos ossos testados. Em vez de cremação total, o tratamento parece ter envolvido uma aplicação de calor controlada ou exposição ao fumo.
Paralelos etnográficos
Os achados arqueológicos são interpretados através de paralelos etnográficos com a mumificação por fumo praticada em sociedades indígenas na Austrália e nas Terras Altas da Nova Guiné, como os povos Dani e Anga.
Nestas culturas, os corpos eram apertadamente ligados e suspensos sobre fogo de baixa temperatura e fumo por longos períodos. Os corpos mumificados eram depois guardados e, eventualmente, enterrados, espelhando os espécimes esqueléticos articulados encontrados nos locais arqueológicos.

O desmembramento ou desalinhamento ósseo nalguns enterros, anteriormente interpretado como ritual, é re-enquadrado como uma consequência pós-mumificação (taponómica), resultante do decaimento tardio ou da perturbação durante o transporte ou enterro. As marcas de corte observadas podem ter sido intervenções anatómicas para facilitar a flexão das articulações antes da mumificação ou para permitir a drenagem de fluidos corporais durante o processo de fumo.
A mumificação por secagem ao fumo foi provavelmente a forma mais eficaz de preservar corpos em climas tropicais, húmidos. A persistência desta tradição cultural ao longo de mais de 10.000 anos, desde o Pleistoceno Terminal até ao Holoceno Médio, é sugerida como uma tradição cultural partilhada que liga as antigas populações de caçadores-coletores do Sudeste Asiático aos povos indígenas atuais da Nova Guiné e da Austrália. O estudo conclui que esta prática permitia a manutenção de ligações físicas e espirituais com os antepassados.
Referência da notícia
H. Hung, Z. Deng, Y. Liu, Z. Ran, Y. Zhang, Z. Li, Y. Kaifu, Q. Huang, K.T.K. Nguyen, H.D. Le, G. Xie, A.T. Nguyen, M. Yamagata, T. Simanjuntak, S. Noerwidi, M.R. Fauzi, M. Tolla, A. Wetipo, G. He, J. Sawada, C. Zhang, P. Bellwood, & H. Matsumura, Earliest evidence of smoke-dried mummification: More than 10,000 years ago in southern China and Southeast Asia, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (38) e2515103122, https://doi.org/10.1073/pnas.2515103122 (2025).